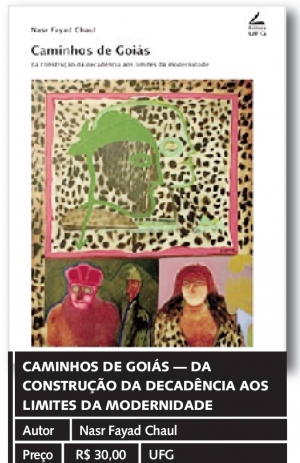O imaginário conveniente (parte 1)
Data: 09 a 15 de novembro de 2014
Veículo: Jornal Opção
Link direto: http://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/o-imaginario-conveniente-parte-1-20103/
Em “Caminhos de Goiás”, o historiador Nars Chaul procura desconstruir os conceitos de “decadência” e “atraso” para caracterizar o desenvolvimento do Estado
O problema, eminentemente filosófico, da verdade histórica, nunca foi ou será resolvido. No século 19 a historiografia alemã pensou tê-lo solucionado adotando um método objetivo, que afinal se revelou absurdo, fracassando a tentativa de incluir o conhecimento dos fatos humanos na categoria das ciências naturais. Sequência infinita de episódios entremeados, os acontecimentos seriam inenarráveis sem que o pesquisador forçosamente os selecionasse, a fim de esboçar uma imagem apenas parcial e fragmentária do mundo. Portanto, sem a interferência de sua subjetividade e inevitáveis preconceitos de formação. Mas isto já é um truísmo, amplamente debatido: o assunto é um dos temas de um livro instigante, “História e Verdade”, de Adam Schaff.
Baseado em dados empíricos, o marxismo (ciência para seus adeptos, religião para muitos de seus críticos) também acreditou na possibilidade de se construir uma narrativa objetiva das relações sociais. Mas o fundamento gnosiológico do marxismo é a base material, econômica, dessas relações, de onde extraiu leis e fundou a teoria mais influente dos últimos 150 anos.Outra maneira de se estudar a história, típica do século 20, é pelo estudo do imensurável: nos termos marxistas, a “infraestrutura ideológica”, ou mentalidades. Costuma-se pensar, a priori, que são duas concepções do conhecimento histórico opostas; no entanto, isso não é inteiramente correto.
Eminência da chamada História Nova, Jacques Le Goff esclarece uma série de concordâncias, entre as duas linhas interpretativas: a) ambas combatem as bases ideológicas do positivismo; b) ambas rejeitam a filosofia da história; c) o marxismo se apresenta como uma “teoria da longa duração com pretensões globalizantes”, coincidindo sobre a noção de estrutura (segundo Peter Burke, os novos historiadores rejeitam a história dos acontecimentos — histoire événementielle — em favor do que realmente importa: “as mudanças econômicas e sociais de longo prazo — longue durée — e as mudanças geo-históricas de muito longo prazo”); d) ao abarcar áreas de estudo complementares da economia, como a história e a sociologia, Marx antecipa o interesse pela interdisciplinaridade, espinhal dorsal da História Nova, promotora de um diálogo fecundo com uma série de outras ciências, principalmente economia, sociologia, geografia e antropologia; e) finalmente, para o marxismo, as massas possuem um papel de alta relevância na história, cuja centralidade é vista pelos novos historiadores com simpatia, interessados pelo cotidiano, pondo em evidência um novo sujeito: o homem comum.
Desde a superação do método positivista, a política deixou de ser o objeto preferido dos historiadores: a economia e a cultura passaram a ser dominantes. No último caso, o que os pesquisadores procuram fazer é reconstruir o passado a partir de registros, imagens e concepções não necessariamente condizente com os fatos. Com isso, muitas vezes a política feita pelos “grandes homens” volta a ser explorada (resquício positivista?), deixando implícito que o fator econômico (resquício marxista?) está na base do comportamento social de indivíduos e famílias, ligados ao poder. A ideia deste ensaio é discutir um livro no qual tudo isto se mistura, e, ao mesmo tempo, tentar evidenciar aquele relativismo da verdade histórica: se tal livro põe em xeque determinadas versões reconhecidas pela historiografia goiana, ele próprio, ao refletir os interesses do presente, tende a construir uma visão conveniente dos mesmos acontecimentos.
Decadência e atraso
Um dos pilares da historiografia goiana, de acordo com Nars Fayad Chaul, é o conceito de “decadência”. Serviria para descrever (mas não interpretar) aquela fase de talvez um século e meio que se segue ao ciclo da mineração, durante a qual Goiás teria regredido ao estágio rural, longamente caracterizado por uma economia de subsistência. Houvera, antes, segundo as narrativas consagradas, um período de esplendor associado ao ouro da região, entre 1726 a, aproximadamente, 1780. Foi o primeiro estágio de nossa evolução econômica, presentificado pelas cidades do período colonial: provam, elas, que o dito fausto deu resultados materiais (e mesmo espirituais) bem modestos. Os exemplos mais visíveis — arquitetura e artes plásticas das antigas Vila Boa e Meia Ponte — não possuem o padrão de criatividade e refinamento observado nas cidades mineiras, aliás muito mais numerosos.
Chaul, historiador, escreveu um importante livro de revisão dedicado a problematizar aquele conceito de decadência: “Caminhos de Goiás, da Desconstrução da Decadência aos Limites da Modernidade” (1997). Pelo título, fica esclarecido que o tema do autor é a ideologia, interpretada como projetos políticos e, a partir do século 20, como evidente marketing eleitoral: no xadrez dos líderes goianos, a “decadência” virou “atraso”, vencido finalmente pela “modernidade” do jargão oposicionista. O que é verdade e o que não é, nessas versões?
A formação teórica de Chaul advém da História Nova, em especial Roger Chartier e Jacques Le Goff, expoentes da terceira fase de evolução da corrente historiográfica cujo pioneiro fora Lucien Febvre, nos anos 20 do século passado. Le Goff é um desses nomes de proa, passando a hegemonizar, com suas teorias, o pensamento acadêmico social brasileiro a partir de final dos anos 1970. O terreno do autor é a chamada “história cultural”, ainda predominante no departamento de história da Universidade Federal de Goiás, do qual é professor. “Caminhos de Goiás” é sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo. A obra é dividida em quatro capítulos, sendo que o primeiro opõe duas vertentes: a que cria e legitima a ideia de decadência (viajantes, governadores e historiadores, entre os quais Saint-Hilaire e o venerável Luís Palacín) e a que questiona esse ponto de vista, a partir do referencial sociocultural dos nativos, diferente do dos europeus (um problema de antropologia). Chaul ampara sua pesquisa nos questionamentos de outros colegas, como Paulo Bertran e Noé Freire Sandes, vinculados ao discurso das mentalidades e ao pensamento ecológico.
O olhar dos estrangeiros aqui chegados, de um continente que conhecia já os benefícios da industrialização, ressentiu as marcas materiais do progresso, lá visto: fluxo de pessoas e de capitais, urbanização, infraestrutura viária, fábricas, trabalho. Praticamente nada disto encontrando aqui, teriam estigmatizado a primeira metade do século 19 na província (período pós-mineratório) com o preconceito característico dos europeus, incapazes, à época, de relativizar a dinâmica socioeconômica das sociedades à margem da “civilização”. Goiás era um nada no contexto nacional, povoado de preguiçosos. Assim, o tipo goiano, na cabeça de um Gardner, de um Castelnau, corresponde ao Jeca Tatu do brasileiríssimo Monteiro Lobato, em “Urupês”: “Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. — ‘Não paga a pena’”. Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena, nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive.
Contudo, Nars Chaul não enxerga decadência na economia goiana de finais do século 18 e, sequer, de todo o século 19. É claro que se decadência é o oposto de progresso, é pior ainda que estagnação: é declínio, ruína, assolamento, o que parece exagerar a situação da época. Conforme o historiador procura demonstrar no capítulo dois, ela modificou-se, apenas, de tal forma que os mineiros trocaram o ouro pelo gado. A imagem que admite, então, não é a de uma curva descendente, antes de uma linha estável e duradoura, sobre a qual a agricultura irá se desenvolver, mais tarde. Havendo condições disponíveis — quais sejam: terra a perder de vista, custo mínimo de produção, dispensa de transportes —, criar bois tornou-se a atividade produtiva viável e natural para os que permaneceram na região. Mas há uma frase, apesar de conclusiva, tão ambígua e sofismável quanto esta, em defesa do novo padrão: “Embora o gado exportado não obtivesse valor suficiente para equilibrar a balança comercial de Goiás, uma vez que as importações eram bem maiores que as exportações, e fossem as quantidades exportadas flutuantes ano a ano, era através da atividade pastoril que o Estado obtinha sua principal fonte de receita, via imposto de exportação”.
Basta inverter a ordem da construção para que ela diga exatamente o contrário do que pretende afirmar: “Embora fosse por meio da atividade pastoril que o Estado obtinha sua principal fonte de receita, via imposto de exportação, o gado exportado não obtinha valor suficiente para equilibrar a balança comercial de Goiás, uma vez que as importações eram bem maiores que as exportações, e fossem as quantidades exportadas flutuantes ano a ano”.
De modo que o esforço de desconstrução da decadência nem sempre resiste à desconstrução da própria linguagem, portanto do próprio conceito que pretende sobressair a certos registros negativos da história goiana. Claro, o autor não superestima a importância da economia pastoril: admite, apenas, que ela contradiz a noção de decadência, já que a produção estadual não teria, de fato, regredido. O desenvolvimento da pecuária serve de contraponto às presumíveis distorções elaboradas pela mentalidade dos viajantes europeus. Não endossa, por essa razão, que tenha havido “progresso”, nos moldes iluministas. Procura enfatizar, isto sim, uma lentíssima evolução (de pelo menos 150 anos!) baseada na indústria bovina, “nos moldes e possibilidades de Goiás”. Esta é uma das teses, aliás condescendente, de Nars Chaul: pois os “moldes” da gente local eram (o próprio autor atesta, com seus argumentos) irracionais e excessivamente naturalistas, como se se acomodassem aos limites externos, ao invés de submeter as condições naturais a uma vontade laboriosa e persistente da parte dos sertanejos.
Senão, vejamos: a favor da ideia de irracionalismo e submissão às condições encontradas sobejam argumentos como: “sujeita aos desígnios da natureza”, “pastagens naturais” e “ínfimos investimentos tecnológicos”, o que facilita a opção mais cômoda, pela pecuária extensiva. São expressões do próprio Chaul, que ainda diz, a respeito da produção mais importante do século 19, depois do gado: “Fruto de qualquer terra, dispensando adubação periódicas e zelos adicionais, o arroz, além disso, não requeria gastos elevados de capital e dava um retorno quase que imediato, por ter um ciclo de produção pequeno”.
Não terá havido decadência, mas tudo induz a pensar que, apesar do olhar evidentemente otimista do autor, a economia goiana, em função de peculiaridades culturais, crescia vegetativamente, quase que espontaneamente, sem o benefício de uma iniciativa de fato transformadora do meio ambiente encontrado. O autor trai, assim, uma imagem do nativo que em nada se assemelha ao do civilizador inato, industrioso e propenso ao trabalho árduo; certamente, muito diferente do anglo-saxão que, na mesma época, transforma o Oeste americano na realidade econômica e política, de Andrew Jackson. Faltou-nos também, com a ausência de planejamento e manejo inadequado da criação, aquela racionalidade indispensável ao capitalismo, obstruindo o potencial da economia pastoril. Não é simples e inocente comparativismo: as diferenças culturais são, de fato, inegáveis, tornando nosso ritmo histórico muito mais lento. Enfim, o conjunto de obstáculos encontrados não se deve apenas a fatores estruturais (portanto econômicos), tendo sido, também, deliberação política dos grupos dominantes, vinculadas à pecuária.
Esta é outra tese posta em xeque por Nars Chaul, que passa a confrontar um clássico da sociologia regional: “Coronelismo em Goiás” (1982), de Francisco Itami Campos. Se o tema da decadência vincula-se diretamente ao da economia oitocentista, o do atraso assume conotações políticas no período seguinte, graças à complexificação das relações sociais e da manifestação de contradições de classes, pelo alto: lavouristas e profissionais liberais versus pecuaristas.
Desde a fundação da República, em 1889, até 1930, três grupos (incluindo dissidências) dominaram a política, no Estado: os Bulhonistas, os Xavieristas e os Caiadistas. É a época do coronelismo, em relação contraditória com a dinâmica capitalista, pressionando a expansão das fronteiras agrícolas em direção ao Centro-Oeste, que parece ter sido incorporado — inclusive pela Política dos Governadores! — quase que compulsoriamente ao mercado nacional. Para se tornar a principal fonte de receitas do Estado, porém, a atividade agrícola requer a infraestrutura viária que a pecuária dispensa. Chegamos, assim, a uma nova etapa de desenvolvimento, capaz de diversificar a produção, impulsionar o crescimento urbano (Sul e Sudoeste de Goiás) e justificar as disputas políticas, de início, entre os grupos mencionados.
Um dos argumentos de Chaul, para sustentar que não houve atraso, é a implantação da estrada de ferro em território goiano durante a República Velha — portanto, antes da modernização promovida pelo ludoviquismo. Contudo, apesar do contorcionismo atenuante de “Caminhos de Goiás”, fica evidente que esta obra saiu apesar das resistências nativas, quase que como uma imposição externa; sobretudo, impressiona como demorou além de limites razoáveis. Uma das fontes utilizadas por Chaul, o jornal “A Informação Goyana”, de 1917, reproduz a fala do engenheiro Luiz Schnoor com Urbano de Gouvêa (presume-se, então, que ela date do quatriênio 1905-1909), tentando ainda convencer Leopoldo de Bulhões da importância dos trilhos. Ora, o projeto de uma ferrovia ligando a economia regional aos mercados do Triângulo Mineiro e São Paulo é herança do Império; foi acolhido por Xavier de Almeida (nosso quarto governador sob a República) mas só começou a se viabilizar, de fato, em 1909, confrontando as imposições da economia de mercado à obstinada resistência dos líderes locais, nitidamente conservadores (não só os pecuaristas).
A simples lentidão com que um projeto desta importância para Goiás leva para ser implantado não é prova suficiente, e cabal, de atraso, haja vista, em compensação, o ritmo crescentemente acelerado do desenvolvimento capitalista? Afinal, estando em obra, a estrada de ferro que trouxe progresso efetivo ao sertão goiano só alcançou Catalão, município na fronteira de Minas Gerais, na década de 1940! Se isto não é o que parece ser, tampouco há de justificar qualquer espécie de otimismo historiográfico. Se da pecuária decorre a agricultura, e a agricultura impõe um novo ciclo de desenvolvimento econômico, fatores tão evidentes como aquele levam a crer que foi mais por fatalidade dialética que por interesse dos atores políticos diretamente envolvidos. No limite (e num sentido completamente oposto ao que se discute), o atraso goiano pode ser atribuído à divisão do trabalho: além de evidente seria, também, incontornável. Assim, produzíamos agricultura diversificada para não comprometer as terras destinadas à produção exclusiva do café, no país.
De uma forma ou de outra, é no mínimo difícil negar o atraso, signo renitente da cultura administrativa no Brasil, não só no Estado de Goiás da Velha República, o qual parecia não ser pontual mas estrutural. É sintomático que outra ferrovia (Norte-Sul), concebida no final dos anos 1980 pelo governo José Sarney, ainda não foi concluída 25 anos depois.
Fuente: Jornal Opção
Categorías: clipping